In
RESISTIR.INFO
https://www.resistir.info/crise/trabalho_util_1.html
1/3/2021
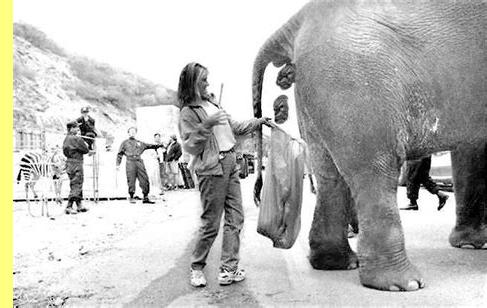
Resumo:
O que é um "trabalho útil" na atualidade? Essa
questão pode parecer a priori sem fundamento, mas faz sentido quando nos
situamos ao nível da sociedade como um todo. A questão
então torna-se: o que é um trabalho socialmente útil?
Depois de relembrar brevemente os debates teóricos sobre o tema, este
artigo apresenta duas teses:
1) Não há correlação entre a
remuneração salarial por um determinado emprego e a utilidade
social deste último;
2) Existe uma relação dialética entre a
distribuição da riqueza e a estrutura do emprego e dos
salários. Esta última questão é, de facto, tanto a
condição como o reflexo da acumulação de riqueza
num polo da sociedade.
1 – Os trabalhos improdutivos não são inúteis
A economia política há muito se debate com esta questão,
mas de uma perspetiva um tanto tendenciosa, perguntando quem são os
trabalhadores produtivos. Esta distinção entre trabalho produtivo
e improdutivo tem, de facto, uma longa história que pode ser rastreada
até François Quesnay. No seu famoso
Tableau économique,
ele postula que "A nação está reduzida a três
classes de cidadãos: a classe produtiva, a classe proprietária e
a classe estéril". A classe produtiva é definida
estritamente, como "aquela que faz renascer por meio do cultivo do
território a riqueza anual da nação. A classe dos
proprietários inclui o soberano, os proprietários de terras e os
dizimadores [encarregados de coletar o dízimo]". Resta a classe
definida como "estéril" que reúne "todos os
cidadãos ocupados noutros serviços e trabalhos que não os
da agricultura". Para a chamada escola fisiocrática (que alguns
chamam a "seita dos economistas"), a terra é, portanto, a
única fonte de riqueza, graças à capacidade
"milagrosa" que lhe é própria, e apenas o trabalho da
terra é produtivo (Quesnay, 1766)
Marx obviamente não poderia aderir a esta definição
estreita de trabalho produtivo, mas reconheceu o grande mérito de
Quesnay por ter analisado o circuito económico em termos de classe
social. O erro cometido por Quesnay pode, em certa medida, ser explicado pela
realidade de sua época. Mas também expressa um viés
ideológico que consiste em querer legitimar a utilidade social da
despesa dos ricos.
Num artigo para a Enciclopédia que permanecerá na forma de
rascunho, Quesnay (1757/1908, pp. 78-79) tem esta soberba fórmula:
O rico deve ser deixado livre para gastar (...) O rico que assim desfruta de
sua riqueza, devolve-a à sociedade. Os ricos não devem ser
prejudicados no gozo de sua riqueza ou dos seus rendimentos, porque é o
gozo da riqueza que dá origem e perpetua a riqueza!
Vemos assim que a teoria do gotejamento é... um retorno às
fontes.
Um pouco mais tarde, Quesnay imagina um diálogo com um hipotético
M. H. que lhe sugere que "foi o trabalho do operário que produziu o
valor de mercado da mercadoria". Quesnay (1766/1888, pp. 535-536)
não está convencido e novamente insiste nas virtudes do consumo
dos ricos:
Os ricos são, pelos seus prazeres quem proporciona com as suas despesas
o salário dos trabalhadores; far-lhes-iam grande dano se trabalhassem
para ganhar o necessário a essas despesas e prejudicar-se-iam
empregando-se num trabalho penoso que significaria uma diminuição
do seu prazer; pois o que é penoso é a privação de
um prazer satisfatório. Assim, eles não obteriam o maior aumento
possível do seu prazer pela maior redução nos seus gastos.
Concordaremos que este raciocínio é admirável: os ricos
prejudicariam os operários, entregando-se eles próprios a um
trabalho penoso.
Em
The Wealth of Nations,
Adam Smith (1776/1991, volume 2, p. 291) faz um ataque bastante
cáustico a Quesnay:
O sistema que representa o produto da terra como única fonte de
rendimento e
riqueza de um país, nunca foi, até onde eu sei, adotado por
qualquer nação, e agora só existe na França, nas
especulações de um pequeno número de homens de grande
conhecimento e talento distinto. Certamente não vale a pena discutir
longamente os erros de uma teoria que nunca foi cometida e que provavelmente
nunca causará dano em parte alguma do mundo.
Para ele, o erro capital desse sistema é obviamente apresentar "a
classe dos artesãos, fabricantes e comerciantes, como totalmente
estéril e improdutiva" (Ibidem, volume 2, p. 294).
A distinção de Adam Smith entre trabalho produtivo e improdutivo
faz referência explícita à teoria do valor: "Há
um tipo de trabalho que aumenta o valor do objeto sobre o qual é
exercido; há outro que não tem o mesmo efeito. O primeiro, que
produz valor, pode ser chamado de trabalho produtivo; o último, trabalho
improdutivo" (Ibidem, volume 1, p. 417). Em geral, o trabalho improdutivo
é, para A. Smith, o de prestadores de serviços, especialmente
trabalhadores domésticos.
Karl Marx discutirá longamente a análise de Smith e
proporá sua própria definição de trabalho
produtivo, consistente com seu modelo teórico:
"do ponto de vista capitalista, apenas é produtivo o trabalho que
cria mais-valia". O trabalho improdutivo é, portanto, definido como
o
trabalho "que não é trocado por capital" (Marx,
1863/1974, volume 1, pp. 162 e 167). Uma definição semelhante
é encontrada em Capital: "[no capitalismo] a meta determinante da
produção é a mais-valia. Portanto, apenas o trabalhador
que devolve mais-valia ao capitalista ou cujo trabalho fecunda o capital
é considerado produtivo"
(Marx, 1867/1969, volume 2, p. 184). No entanto, Marx adota uma
definição mais restrita noutro lugar; por exemplo, o trabalho no
comércio ou no transporte é para ele improdutivo: "as
funções puras do capital na esfera da circulação
não produzem valor nem mais-valia" (Marx, 1894/1976, p. 272).
Este imbróglio gerou farta literatura dedicada à exegese dos
– muitas vezes contraditórios – textos de Marx sobre esta
questão. Uma das melhores sínteses é encontrada num artigo
anterior de John Harrison (1973). O autor não é um marxista
ortodoxo: para ele, querer "manter um conceito apenas porque aparece nos
escritos de Marx é reduzir o marxismo a um dogma". E não
há mão morta: "A tentativa de Marx de definir
cientificamente a categoria de trabalho improdutivo empregado pelo capital foi
fundamentalmente mal concebida". A integração desse conceito
no sistema teórico de Marx de facto leva a muitas inconsistências:
por exemplo, os chamados trabalhadores improdutivos não seriam afetados
pela exploração.
Na sua notável discussão sobre este tema, Christophe Darmangeat
(2016, 2017) finalmente mantém apenas uma definição
estrita de trabalhadores improdutivos: são "aqueles cujos
salários são pagos com dinheiro" e ele admite que a
importação dessa distinção dentro do setor
capitalista" ajudou a obscurecer o alcance, até mesmo a sua
existência." A distinção produtivo / não
produtivo não pode, em última análise, ser usada como um
critério para avaliar a utilidade dos empregos. No entanto, Harrison
(1973) apontou para outro problema de método, argumentando que Marx
definiu implicitamente o trabalho improdutivo como aquele "que seria
supérfluo num hipotético sistema de produção mais
racional". É essa via que fornece uma base crítica para a
noção de utilidade dos empregos.
2. A repartição do valor
No seu
livro em que debate os inconvenientes do mercado
, Roger Bootle (2009) introduz uma distinção fecunda entre
empregos
"criativos" e empregos "distributivos", que não
deixa de ter relação com aquela que Marx procurou estabelecer
entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Simplificando, trabalhadores
criativos criam valor, enquanto trabalhadores distributivos são
empregados para capturar esse valor em benefício desta ou daquela
entidade, numa lógica de competição generalizada.
Adair Turner (2018, 10 de abril; 2018, 12 de setembro) recentemente fez eco
dessa distinção e fala sobre empregos de "soma zero"
porque deslocam valor, sem criá-lo. Um exemplo típico são
as atividades de marketing e publicidade destinadas a convencer-nos "que o
produto A é melhor do que o produto B". Turner esboça um
catálogo ao estilo Prévert dos empregos que classifica nesta
categoria.
-
os cibercriminosos e especialistas informáticos empregados para
combater os seus ataques;
-
os advogados especializados em divórcios ou
indemnizações por acidentes, erros médicos ou peculato
financeiro;
-
os advogados de negócios que protegem os direitos de propriedade
intelectual;
-
os contabilistas e advogados tributários empregados na
otimização fiscal e funcionários designados para o seu
controlo;
-
operadores de investimentos no mercado financeiro
(traders)
e gestores de ativos;
-
consultores, reguladores financeiros e responsáveis pela
conformidade;
-
banqueiros de negócios, advogados e executivos seniores que gerem
finanças empresariais, muitas vezes sem criação de valor
sustentável;
-
lobistas e comunicadores.
3. Gerentes, supervisores, anunciantes, consultores: todos inúteis?
Mas, apesar de tudo, esses empregos de "soma zero" são
úteis no sentido de que estão adaptados ao sistema competitivo
realmente existente. Esta categoria, portanto, só faz sentido, como
Harrison (1973) já sugeriu, apenas em relação a outra
empresa que tenha reduzido esses encargos em termos de concorrência. Em
todo caso, abre uma reflexão que se pode desenvolver em vários
níveis.
Poderíamos assim, incluir em empregos de "soma zero" uma parte
daqueles que se dedicam à gestão do que eufemisticamente
são chamados de "recursos humanos". No entanto, os novos
métodos de gestão conduzem a um rápido crescimento dos
empregos correspondentes. Este é o ponto de partida para as
experiências de algumas empresas, a mais conhecida das quais é sem
dúvida a Favi. Jean-François Zobrist, o dono da empresa – e
promotor da experiência – baseou seu projeto na
observação de uma hierarquia hipertrofiada dedicada ao controlo
dos produtores. Frequentemente ele refere-se a um estudo de 2007 que estabelece
que "as empresas industriais têm uma estrutura de custos dividida em
75% de custos diretos e 25% de custos indiretos". Ele, portanto, eliminou
a hierarquia, bem como um grande número de funções de
apoio que não contribuíam diretamente para a
produção. Os resultados dessas experiências são, sem
dúvida, discutíveis, mas o seu ponto de partida é o
crescimento, considerado excessivo, de cargos de supervisão e controlo.
Na muito séria
Harvard Business Review,
dois economistas especializados em gestão procuraram quantificar essa
inflação hierárquica (Hamel & Zanini, 2016). Eles
totalizaram 24 milhões de diretores, gestores e outros supervisores nos
Estados Unidos, ou seja 18% dos empregos (e quase 30% da folha de pagamentos
total). Tomando como referência as empresas mais
"parcimoniosas", chegaram à conclusão de que esse
número poderia ser dividido por dois. Consideram ainda que metade das
reuniões internas, às quais os outros colaboradores dedicam cerca
de 16% do seu tempo, são uma perda de tempo, o que equivale a cerca de 9
milhões de empregos a tempo inteiro. No total, existem, portanto, 21,4
milhões de assalariados que "sem culpa própria, criam pouco
ou nenhum valor económico".
Esta é uma explicação possível para o paradoxo de
Solow. Ao nível da oficina ou do escritório, os trabalhadores (e
consultores) observam muito concretamente o aumento da produtividade, mas isso,
como Robert Solow já apontou há 30 anos, não é
visível nas estatísticas macroeconómicas. Esta
"evaporação" poderia assim ser explicada porque a
produtividade "sentida" é avaliada apenas em
relação aos trabalhos "criativos", esquecendo os
empregos "distributivos".
4. O valor social dos empregos
Outra questão que merece ser levantada, é a da
relação entre utilidade social e a remuneração.
É um novo caminho que três pesquisadores da New Economic
Foundation estão a explorar com base numa avaliação do
"valor social" de várias profissões (Lawlor, Kersley, &
Steed, 2009, 14 de dezembro).
Eles usam a chamada metodologia de "retorno sobre o investimento
social" desenvolvida pelo UK Cabinet Office (UK Cabinet Office, 2012).
Trata-se de avaliar o "desempenho" de cada profissão,
comparando com o que ela traz para a sociedade e quanto custa. É certo
que o método é discutível, pois parte do pressuposto de
que se pode monetizar os efeitos úteis – ou prejudiciais – de
diferentes atividades. Mas é implementado de forma racional e a mensagem
que transmite é esclarecedora.
Entre as seis profissões examinadas, podem ser contrastadas duas que se
situam em dois polos da escala social: de um lado, um operário da
reciclagem, do outro, um banqueiro de negócios. O primeiro reduz a
poluição e trata os resíduos. Em cada caso, uma
avaliação é proposta: por exemplo, o CO2 economizado
é avaliado em 51 libras por tonelada, usando a estimativa do
relatório Stern. Resultado: o "produto social" desse
trabalhador, pago com 13 650 libras, está avaliado em 151 152 libras. A
relação entre o seu valor social e o seu salário é,
portanto, de 11 para 1.
O balanço quanto aos banqueiros da City é totalmente negativo.
Claro, eles criam valor que pode ser medido pela contribuição do
setor para o PIB e as finanças públicas; mas estão
destruindo muito mais, por causa da crise financeira que ajudaram a provocar.
No total, "com salários variando de 500 mil a 10 milhões de
libras, os banqueiros de negócios da City destroem 7 libras de valor
social por cada libra de valor criado".
Este método de avaliação é questionável, mas
permite-nos testar a intuição segundo a qual a
remuneração atribuída aos vários tipos de empregos
não tem relação com a sua utilidade social.
Poderíamos multiplicar os exemplos: assim, um engenheiro de uma escola
superior ganhará duas ou três vezes mais no setor privado
desenvolvendo tecnologias mais ou menos fúteis do que na
investigação fundamental.
5. Empregos de merda
(shit jobs)
e empregos idiotas
(bullshit jobs)
Roger Bootle (2009) aventura-se num palpite engraçado sobre a
razão pela qual os operadores de investimentos no mercado financeiro
(traders)
"merecem" ganhar tanto: "o seu trabalho é tão
desgastante que só o dinheiro pode justificá-lo, e eles precisam
de muito dinheiro para aliviar seu sofrimento". É provavelmente
também por isso que esse tratamento é eufemisticamente chamado de
"compensação". Essa sugestão obviamente evoca as
análises mordazes de David Graeber. No seu livro
Bullshit jobs
, ele propõe o conceito de "empregos idiotas" que define como
"uma forma de trabalho remunerado que é tão totalmente
desnecessário, supérfluo ou prejudicial que nem mesmo o
próprio assalariado consegue justificar sua existência".
Graeber (2018, p. 43), no entanto, introduz uma distinção
conceptual entre os "empregos idiotas" e os "empregos de
merda":
Precisamos agora abordar outra distinção fundamental: aquela
entre empregos que não fazem sentido e aqueles que são
simplesmente trabalhos desprezados. Vou chamar aos segundos empregos de merda,
como é comum. Só abordo esta distinção porque
são frequentemente confundidos – e isso é estranho, porque
não são nada parecidos. Poderia até dizer-se que
são diametralmente opostos. Empregos idiotas costumam ser muito bem
pagos e oferecem ótimas condições de trabalho, mas
não servem para nada. Os empregos de merda, na maior parte, consistem em
tarefas que são necessárias e inquestionavelmente
benéficas para a sociedade; simplesmente os responsáveis
são mal pagos e mal tratados.
Aqui encontramos o ressentimento de Bootle (2009) que, assim, daria suporte
sociopsicológico à categoria de empregos idiotas: só uma
boa "compensação" os tornaria aceitáveis,
já que são inúteis. E encontra-se também a ideia de
uma desconexão entre o valor social dos empregos e sua
remuneração: empregos de merda são
"inquestionavelmente benéficos para a sociedade", mas mal
pagos. Esta é a pergunta que já colocava Keynes (1913, p. 192):
Durante quanto tempo ainda se achará ser necessário pagar aos
homens da City de forma tão desproporcional em relação ao
que outros ganham por serviços não menos úteis ou penosos
que prestam à sociedade?
(continua)
As referências indicadas serão apresentadas na 2ª parte do
texto.
[*]
Economista, michel.husson@ires.fr
O original encontra-se em
econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/rbest/article/view/13688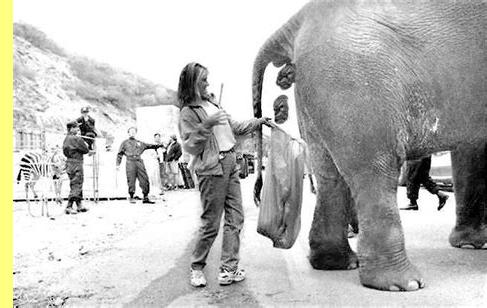
Nenhum comentário:
Postar um comentário