Os liberais e social-democratas estão de volta
em uma nova roupagem. Eles têm se posicionado como salvadores do mundo;
agem como a Razão contra a irracionalidade do neofascismo. Isso é
possível porque seus antecessores terminaram no lamaçal do
neoliberalismo e da tecnocracia – mas também porque seus adversários
agora se apresentam como os lobos uivantes da extrema direita. Esses
liberais e social-democratas remodelados são como zumbis, o cadáver
reanimado de um liberalismo morto.
Mas eles têm um ponto. Seus
antecessores imediatos pegaram sua tradição liberal e exauriram ela na
fogueira da austeridade. Do Partido Trabalhista do Reino Unido ao
Congresso Nacional Indiano, os velhos liberais e social-democratas no
Ocidente e nas frentes anticolonialistas do Sul Global se curvaram ao
colapso soviético, se conformando com três realidades de sua própria
criação:
- O capitalismo é eterno.
- O arcabouço das políticas neoliberais é inevitável mesmo se ele cria desigualdades e não avança nas pautas sociais.
- O máximo que podemos fazer para melhorar a sociedade é atenuar
certas hierarquias sociais específicas (como raça, gênero e sociedade). E
seguindo as advertências vulgares de Fredrich Hayek em A estrada para servidão
(1944), a visão defendida por esses liberais e social-democratas é que
perseguir algo mais do que uma mera melhoria é a loucura, pois isso
estaria fadado ao fracasso – ou reproduziria, inevitavelmente, a
“autocracia” e a “burocracia” da União Soviética.
À medida
que os antigos liberais se amarravam abertamente à agenda de austeridade
e endividamento da política neoliberal, eles assumiram uma roupagem de
árbitros tecnocratas. Esses liberais se recusavam a admitir as críticas à
dor insuportável da austeridade, o que permitiu que a extrema direita
se disfarçasse de representante do povo, adotando um tom populista por
meio de uma estridente retórica anti-imigração e anti-identitária,
enquanto a combinavam às suas críticas incoerentes ao sistema econômico.
A extrema direita emergiu, em grande parte, na esteira da rendição
liberal ao neoliberalismo. Mas a extrema direita não rompeu com as
linhas gerais da política neoliberal. Ela a reproduz com uma agenda
social agressiva.
Esses liberais e social-democratas em nova
roupagem ignoram a rendição dos velhos liberais à austeridade e à
dívida, e se recusavam a fazer um resgate histórico da maneira como a
tecnocracia liberal assentou o primeiro bloco do edifício da extrema
direita. Caracterizar o retorno do liberalismo como o salvador da
civilização contra a extrema direita é um equívoco, uma vez que esse
liberalismo e social-democracia remodelados não tem nenhuma formulação
diferente dos seus antecessores a respeito de um caminho a seguir.
Nada
deles produz confiança e eles não estão preparados para romper com a
agenda neoliberal da finança-dívida-austeridade. O que nós temos é uma
retórica que copia a esquerda, agitando as sensibilidades contra o
sistema, mas a incoerente quando se trata da maneira como superar as
atrocidades do capitalismo. Especificamente, não há uma política
econômica capaz de enfrentar a desigualdade criada no período
neoliberal.
Mergulhando profundamente nas agendas e programas
políticos dos novos social-democratas e em meio do festival de jargões
sobre identidades políticas (nem mesmo tomando seriamente as demandas de
dignidade nos termos da opressão social), você ficará em apuros para
achar uma agenda econômica que restaure direitos ou empodere as massas.
Na melhor das hipóteses, você encontrará políticas redistributivas
conservadoras que tentam reconstruir a classe média, a quem a
social-democracia considera sua base real – esquivando-se de qualquer
ambição de ir além disso, representando e organizando também a classe
operária ou campesinato.
Um determinado plano de slogans –
tecnofeudalismo (Yanis Varoufakis), retrocessos democráticos (Red
Futuro), capitalismo progressista (Joseph Stiglitz) direitos com
responsabilidades (segundo a Terceira Via) – gera uma desarticulação, a
qual se funda na ideia de que houve, um dia, um sistema democrático que
estava enraizado em um capitalismo perfeitamente competitivo.
Essa
Era de Ouro nunca existiu: a competição capitalista está destinada a
monopolização, e ao uso do poder de Estado (frequentemente com
violência) para exercer a vontade dessa ou daquela empresa, reduzindo a
parcela da riqueza que é distribuída à sociedade por meio de salários e
impostos, enquanto a classe capitalista acumula ganhos para si mesma e
acumula mais capital para perpetuar sua dominação. É isso que sempre foi
e continua sendo o sistema, mesmo que tenha havido incidentes como o
capital ter migrado de investimentos industriais de larga escala para a
financeirização (especialmente dado que há enormes investimentos feitos
em infraestrutura pelos bilionários em áreas como Inteligência
Artificial e produção de armas). Um “retorno ao capitalismo” ou a
construção de um “capitalismo com face humana” é uma ilusão que as
pessoas de todo o mundo não podem aceitar.
Além do mais, remeter a
um capitalismo mais “suave” do pós-guerra ignora que esse modelo
depende de uma exploração severa da mão de obra, bem como da extração
predatória de recursos do Terceiro Mundo – construído com base em golpes
de Estado e intervenções militares para estrangular a soberania dos
Estados pós-coloniais. Embora os trabalhadores do Norte Global possam
ter desfrutado brevemente de estabilidade e prosperidade colaterais
durante a “Era de Ouro do Capitalismo (1945-1973)”, para os
trabalhadores do Terceiro Mundo ela não foi uma era de prosperidade.
Uma
proposta mais coerente, da perspectiva e da experiência do Sul Global,
reconstruiria as agendas econômicas nacionalistas que foram
desmanteladas pelo intervencionismo estadunidense. Isso, no entanto,
está profundamente ausente na visão defendida por esses liberais e
social-democratas, que construíram uma análise derivada da Europa e de
sua nostalgia por seus Estados de bem-estar social e da nostalgia por
uma era anterior, o New Deal nos Estados Unidos.
Uma importante pesquisa publicada em 2024 pela Aliança das Democracias, chamada Democracy Perception Index
[Índice de Percepção da Democracia], constatou que foi listado três
principais problemas pela maioria das pessoas questionadas sobre as
ameaças à democracia: concentração de renda e riqueza, corrupção e
controle empresarial sobre a vida política. Curiosamente, 79% da
população chinesa afirma que seu país é democrático, um índice muito
maior do que em qualquer país ocidental.
Essa pesquisa, realizada por um think tank liberal
pró-Ocidente, mostra que a população chinesa acredita que seu governo
faz mais por ela porque coloca as necessidades da vasta maioria à frente
das necessidades dos capitalistas ao redor do mundo. Em um momento de
interesse global pelo socialismo, a possibilidade de aprender algumas
lições chinesas ensina como são equivocadas a barreira da dependência,
do retorno ao “capitalismo progressista” e das ideias social-democratas
medíocres. Ideias esgotadas de democracia liberal e capitalismo de livre
mercado não precisam ser reanimadas por um novo liberalismo zumbi.
Marx e a história do liberalismo
A
tradição liberal nasceu e foi amamentada no mundo anglo-americano por
ideias que formuladas na luta contra a tirania. Escritores
anglo-americanos como John Locke (1632-1704) imaginaram um mundo com um
povo como soberano em vez de monarquia. Locke argumentou que a ordem
comercial – o capitalismo – emerge por uma ação autônoma de pessoas
privadas sem qualquer contrato travado entre elas. O desafio do Estado –
seja com ou sem um rei – é garantir a base da propriedade privada. Essa
tradição não compreendeu suas próprias limitações, seja sua fé racista
de que somente poderia ser branco esse povo soberano ou que era
permitido aos brancos exterminarem os povos nativos das Américas e
escravizarem os africanos – assim como o credo burguês de que a
propriedade privada não estava em contradição com a liberdade humana.
Locke era o ideólogo do movimento pelos cercamentos na Inglaterra, o qual expropriou os camponeses. Ele escreveu no seu Segundo tratado sobre o governo(1689)
sobre os povos indígenas nas Américas teriam que perder suas terras,
tudo isso baseado numa justificação bíblica (Gênesis 1:28):
Porque
eu gostaria que me respondessem se, nas florestas selvagens e nas
terras incultas da América, abandonadas à natureza sem qualquer
aproveitamento, agricultura ou criação, mil acres de terra forneceriam a
seus habitantes miseráveis uma colheita tão abundante de produtos
necessários à vida quanto dez acres de terra igualmente fértil o fazem
em Devonshire, onde são bem cultivadas?
Secretário
tanto dos senhores proprietários da Carolina quanto de Comércio e
Plantações, Locke se usou de um argumento que beneficiaria a ele mesmo,
ao remover os indígenas das terras que ele se apropriou ao mesmo tempo
que lhe davam a liberdade para escrever sobre os direitos que ele não
concedia aos indígenas.
As tradições liberais republicanas dos
povos francófonos que culminaram na Revolução Francesa (1789) ruíram nas
praias do Haiti, eis que tentaram impedir que o povo haitiano de
realizar suas próprias ambições republicanas e liberais. E, finalmente, a
tradição germânica – central na formulação de princípios liberais sobre
o Direito e a Pedagogia, ao longo da obra de figuras como Immanuel Kant
(1724-1804), Wilhelm von Humboldt (1767-1835) e G. W. F. Hegel
(1770-1831) – não conseguiu superar as contradições do entulho do Sacro
Império Romano, das confederações de Napoleão e da ascensão da Prússia.
Hegel acreditava que Napoleão – “essa alma do mundo” – destruiria os
antigos freiherren alemães e em cujas terras, aqueles “cadáveres sem vida”, floresceria a era da liberdade.
No entanto, Napoleão frustrou os liberais, pois os Junkers
retornaram com a dinastia Hohenzollern para governar por mais um
século. Reagindo aos repressivos Decretos de Carlsbad (1819), os
liberais participaram da revolta continental de 1848, cujo fracasso em
desalojar o absolutismo levou à sua total desilusão. Muitos deles – como
Heinrich von Gagern – apelaram a Frederico Guilherme IV para usar uma
coroa constitucional em 1849, enquanto na França, Émile Ollivier se
tornou o principal aliado liberal de Napoleão III. O republicanismo
liberal rapidamente se transformou em monarquismo constitucional.
Partindo
das limitações de Hegel, dos Jovens Hegelianos e dos liberais que
aceitaram alguma versão monárquica, Karl Marx (1818-1883) desenvolveu
sua crítica imanente ao liberalismo, fundamentando-a na incapacidade do
liberalismo de ir além das relações de propriedade privada que limitavam
suas ambições. O ponto central dos primeiros escritos de Marx sobre a
liberdade é seu reconhecimento de que os avanços feitos pela Revolução
Francesa e pelo liberalismo foram vitais.
A emancipação política, escreveu Marx no Sobre a questão judaica,
é “a emancipação política de fato representa um grande progresso; não
chega a ser a forma definitiva da emancipação humana em geral, mas
constitui a forma definitiva da emancipação humana dentro da ordem
mundial vigente até aqui”. Não é o ideal que Marx repudia, mas seus
portadores, os liberais, que acabam se apegando tanto à defesa da
propriedade privada que se tornam um grupo heterogêneo de pessoas
incapazes de promover claramente os objetivos socialistas.
A caracterização feita por Marx em 1852 dos Whigs britânicos, os liberais que se opunham à monarquia e ao controle da Igreja Anglicana, é apropriada:
Fica
evidente a desagradável mixórdia heterogênea de personalidades em que
os Whigs britânicos estão em vias de se tornar: feudais, que são ao
mesmo tempo malthusianos, traficantes de dinheiro com preconceitos
feudais, aristocratas sem nenhuma honra, burgueses sem atividade
industrial, homens de finalidade com frases progressistas, progressistas
fanaticamente conservadores, negociantes em frações homeopáticas de
reformas, promotores do despotismo familiar, grão-mestres da corrupção,
hipócritas religiosos, tartufos da política.
Uma
rápida anotação sobre essa citação notavelmente eficiente se aplica aos
partidos liberais de hoje – e, também, aos intelectuais
sociais-democratas: Thomas Malthus era um reverendo que acreditava que o
crescimento populacional, em vez da pilhagem capitalista, aumentava a
fome, enquanto Tartufo é uma peça de Molière sobre hipócritas
religiosos.
Nos seus escritos iniciais sobre os mesmos temas, Marx
já apresentava a ideia de “grande progresso” e a necessidade de
continuar a empurrar a luta de classes adiante: a forma final da
emancipação humana. Na Crítica ao Programa de Gotha
(1875), Marx escreveu que “O direito nunca pode ultrapassar a forma
econômica e o desenvolvimento cultural, por ela condicionado, da
sociedade”. A sociedade com forças produtivas incapazes para gerar
suficiente mais-valia, e e, portanto, com insuficientes espaços de lazer
e cultura, não seria capaz por si só de constituir a emancipação
humana.
Os direitos liberais à propriedade em um sistema
capitalista, por exemplo, garantem a cada pessoa a “liberdade de possuir
propriedade” – que havia sido restringida em formações sociais
pré-capitalistas –, mas não garantem a “liberdade da propriedade”, ou
seja, a liberdade da tirania da falta de propriedade. É somente “em uma
fase superior da sociedade comunista”, que se moveu do reino da
necessidade para o reino da liberdade – com a abundância como sua
característica – que se pode compreender a base social da liberdade.
Marx escreveu também na Crítica que
” apenas então o estreito horizonte jurídico burguês poderá ser
plenamente superado e a sociedade poderá escrever em sua bandeira: ‘De
cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades!’”
– a questão de como descrever “necessidades” não é relevante aqui. O
ponto importante aqui é que Marx faz pelo menos três rupturas decisivas
com a tradição liberal anterior:
- Que as ideias de liberdade e direito não podem ser abstraídas das condições materiais da vida humana;
- Que a instituição da propriedade privada cria um ciclo de exploração
e acumulação que transforma as ideias de liberdade e igualdade em seu
oposto, tudo isso sem violar os termos da troca livre e igualitária;
- Que a concretização das ideias de liberdade e direito exige a
transcendência da propriedade privada (as relações sociais do
capitalismo) e a criação de uma nova “ordem mundial”.
Liberalismo
não poderia realizar seus valores. É isso que Marx demonstrou. Levar os
valores adiante exigiria uma ruptura com o capitalismo e a formação de
uma sociedade socialista. Mas os liberais não queriam essa ruptura.
O
liberalismo, no entanto, continua como uma tradição política e
filosófica, mas agora acompanhado de uma crítica que demonstrava suas
limitações. O melhor do liberalismo, do século XIX, entendia que o
capitalismo gerava desigualdades e que a forma mais elevada de política
liberal seria amenizar essas desigualdades por meio de programas de
bem-estar social.
Ao longo da Europa, do socialismo de Estado de
Otto von Bismarck ao Estado de bem-estar social de Keynes, e depois nos
Estados Unidos – por meio das ações antitruste e de Roosevelt – se
desenvolveram diversas vertentes que reconheciam a dureza do capitalismo
e buscavam maneiras de humanizar seu impacto sobre a classe
trabalhadora.
Todo o campo de debate e disputa sobre bem-estar
social manteve-se em diálogo ora próximo, ora distante com o marxismo,
que pairava como a crítica mais clara do capitalismo e de seu impacto
social. Mesmo as tradições que rejeitavam o bem-estar social (como o
pensamento anticomunista, da John Birch Society nos Estado Unidos à
Sociedade de Mont Pelerin na Europa) tiveram que se envolver com o
marxismo, mesmo que apenas como seu contraponto.
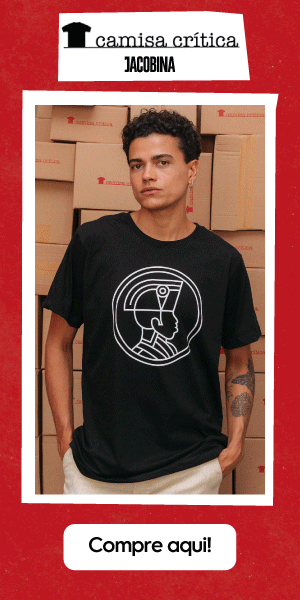
A
partir da década de 1970, contudo, surgiram versões muito mais
confiantes do antimarxismo, que rejeitavam tanto as políticas de
bem-estar social quanto a centralidade da crítica marxista ao
capitalismo. O colapso soviético, a crise da dívida no Terceiro Mundo e o
sindicalismo empresarial no Norte Global – um processo em grande parte
arquitetado pelo Estado americano – levaram essa corrente de pensamento a
se solidificar em variantes de neoconservadorismo e neoliberalismo,
duas vertentes com nomes distintos que compartilhavam a ruptura com a
crítica marxista e com a centralidade cultural do bem-estar social.
A
chegada desses discursos foi impulsionada pela emergência do
pós-marxismo, que, em nome do liberalismo, participou do declínio do
liberalismo e retornou às teorias pré-marxistas – como, por exemplo, o
livro de 1985, Hegemonia e Estratégia Socialista, de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, que pavimentou o caminho do pós-marxismo de volta ao liberalismo.
A
rejeição dos elementos centrais do marxismo leva diretamente à
incoerência: Enquanto o marxismo mostrou que, na História, vemos a massa
popular se unir em torno da agenda de construir sua própria força e,
assim, usá-la para construir organizações sociais, essas lutas de massas
– por meio da organização – se tornariam lutas de classes que
concentrariam o poder do povo contra os capitalistas e seus emissários
estatais para construir uma sociedade socialista. Tudo isso é sublimado
na ininteligibilidade de múltiplas lutas. A mensagem agora é: faça o que
quiser para mudar o mundo e algo certamente acontecerá, e não há
necessidade de colocar a questão das forças produtivas ou do capitalismo
na agenda. O papel estrutural do capital e do trabalho é obscurecido
por essa forma de miscelânea política.
Revoluções são feitas por nações pobres
O
socialismo surgiu como uma possibilidade. Imaginávamos que a vasta
riqueza produzida pelo trabalho social poderia ser usada pela sociedade
para enriquecer cada um de nós. Acreditávamos que poderíamos aproveitar
as novas tecnologias, e a riqueza social consequente, para organizar a
produção de forma humana, tratar a Terra com dignidade e tratar cada um
de nós com gentileza e cortesia. Esse era o nosso sonho. Continua sendo o
nosso sonho. Por centenas de anos, seres humanos sensíveis lutaram para
construir um mundo à imagem da liberdade.
Trabalhadores e
camponeses, pessoas comuns com sujeira sob as unhas, se livraram do
manto de humilhação imposto pelos donos de terras e riquezas para exigir
algo melhor. Formaram movimentos anticoloniais e movimentos
socialistas, movimentos contra o terrorismo da fome e da indignidade.
Eram movimentos, pessoas em movimento. Não aceitavam o presente como
infinito, tampouco uma posição imóvel. Estavam em movimento, não apenas
em direção à casa dos senhores ou aos portões da fábrica, mas em direção
ao futuro.
Esses movimentos produziram três revoluções em 1911
(China, Irã, México), a Revolução Russa de 1917 (contra o tsarismo), a
Revolução Chinesa de 1949, a Revolução Cubana de 1959, a Revolução
Vietnamita de 1975 e muitas outras. Cada uma dessas revoluções ofereceu
uma promessa: o mundo não precisa ser organizado à imagem da burguesia,
quando pode facilmente ser desenvolvido em torno das necessidades da
humanidade.
Por que a maioria da população mundial deveria passar a
vida trabalhando para construir a riqueza de poucos, quando o propósito
da vida é muito mais rico e ousado do que isso? Se os povos, da China a
Cuba, foram capazes de derrubar as instituições da humilhação, então
qualquer um poderia fazê-lo. Essa era a promessa da mudança
revolucionária.
A derrota da Revolução Alemã em 1919 pôs fim à
possibilidade de a Europa seguir o exemplo dos bolcheviques e derrubar
seus regimes capitalistas marciais. Em vez disso, a Revolução prevaleceu
no Império Russo – um império tecnológica e industrialmente atrasado,
que havia colonizado grandes partes da Ásia e da Europa. Seguiu-se uma
Revolução na Mongólia em 1921, mais ou menos na mesma época em que
várias partes do antigo Império Russo se uniram à onda revolucionária em
direção à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
A
Revolução de Outubro de 1917 contra o Tsar revelou que as pessoas comuns
podem deixar de lado a pretensão do liberalismo imperial ou democrático
e se governar por meio de um Estado de orientação socialista, a ideia
do liberalismo imperial é ilustrada pelo personagem do príncipe Dmitri
Ivanovich Nekhlyudov no romance Ressurreição, escrito por Liev
Tolstoi, em 1899. Mas, acima de tudo, a Revolução de Outubro – assim
como as revoluções que se seguiram (Vietnã, 1945; China, 1949; Cuba,
1959) – provou que os axiomas de Vladimir Lenin (1870-1924) estavam
corretos.
Esses axiomas apontavam que o liberalismo não seria
capaz de promover uma mudança revolucionária, de que o colonialismo
precisava ser superado e, por fim, de que a revolução poderia ocorrer
onde as forças produtivas não estavam plenamente desenvolvidas – e
inspiraram gerações de revolucionários no mundo colonizado a se tornar
marxistas-leninistas como José Carlos Mariátegui, Mao Zedong, Ho Chi
Minh, Kwame Nkrumah, E. M. S. Namboodirpad e Fidel Castro. Esses axiomas
gerais do marxismo-leninismo, fundamentalmente construídos sobre a
experiência da construção socialista no Terceiro Mundo, podem ser
teorizados da seguinte forma:
- O
marxismo clássico, tal como se desenvolveu na Segunda Internacional
(tendo como principal teórico Karl Kautsky), acreditava que as forças
revolucionárias no bloco capitalista e imperialista avançado,
nomeadamente o proletariado industrial, se revoltariam e fariam a
história avançar em direção ao socialismo. Esta teoria não se
concretizou. Em vez disso, a revolução fracassou no núcleo capitalista e
imperialista. Isso ocorreu porque o proletariado e outras classes
aliadas no núcleo capitalista se beneficiaram amplamente dos benefícios
do imperialismo e se imbuíram fortemente da cultura ideológica do
liberalismo imperialista.
- Em vez disso, os avanços revolucionários ocorreram nas semicolônias e
colônias, onde os trabalhadores e camponeses formaram uma aliança para
derrubar os governantes coloniais e as classes que haviam crescido por
sua dependência do colonialismo. As classes que governavam em nome dos
colonizadores não tinham a energia nem o programa para afastar sua
própria sociedade da dominação colonial, ou para construir uma agenda
liberal de autossuficiência; elas não podiam romper com o imperialismo,
talvez apenas romper com o domínio colonial direto.
- A cultura em muitas semicolônias e colônias (particularmente na
África e na Ásia) foi frustrada pela recusa das potências imperiais em
construir instituições modernas de educação, saúde e moradia para os
súditos coloniais; a cultura das colônias não incubou liberalismo
suficiente em torno das instituições do direito e da política. Por essa
razão, os Estados controlados por trabalhadores e camponeses não
incluíram o liberalismo em sua herança, mas tiveram que criar suas
próprias formas ideológicas na nova sociedade. Parte dessa situação foi
semelhante na América Central e no Caribe (incluindo a Colômbia), onde
as formas coloniais de governo persistiram apesar da independência
formal e o liberalismo foi fundamentalmente restringido; no Cone Sul,
pensadores liberais como Juan Bautista Alberdi, na Argentina, e José
Victorino Lastarria, no Chile, escreveram panfletos liberais, mas nada
tinham a dizer sobre os povos indígenas ou sobre a classe trabalhadora e
o campesinato em suas sociedades – como se fossem um Locke trezentos
anos depois.
- O imperialismo sufocou o crescimento dos sistemas econômicos
modernos, incluindo a construção de infraestrutura moderna e a
industrialização. As colônias tinham a tarefa de produzir
matérias-primas, exportar suas riquezas e importar produtos acabados.
Isso significava que os novos Estados revolucionários assumiram o
controle de economias dependentes, com poucas habilidades científicas e
técnicas.
Cada um dos Estados revolucionários que
emergiram – da União Soviética à República Popular da China e à
República de Cuba – compreenderam perfeitamente essa situação e essas
limitações. É precisamente isso que a maioria desses novos liberais e
social-democratas, com seus slogans de esquerda, não compreende: eles
querem se distanciar da experiência real de construção do socialismo,
que não ocorre no centro capitalista, mas na periferia colonial, e que
trabalha para construir uma cultura socialista contra enormes
adversidades.
É fácil descartar o regime de partido único,
desprezar o “estatismo” ou mesmo o “autoritarismo”, adotando a linguagem
do liberalismo da Guerra Fria, mas é muito mais difícil oferecer um
diagnóstico do porquê os desenvolvimentos revolucionários ocorreram nos
países mais pobres e, ainda, por que esses desenvolvimentos
revolucionários tiveram que seguir um caminho que não se conforma aos
melhores gestos da ideologia liberal. Os experimentos socialistas nas
nações mais pobres tiveram que enfrentar imediatamente uma lista de
tarefas importantes, incluindo as seguintes:
- Defender o processo revolucionário de ataques internos e externos.
Isso significava utilizar as forças armadas e armar o povo, mas também
impedir a organização de forças contrarrevolucionárias internas em um
bloco de resistência, usando discursos liberais de “liberdade” para
mascarar seu desejo de retornar ao poder e impor o regime
antidemocrático de propriedade às vastas massas.
- Abordar os problemas imediatos do povo. A fome, a pobreza e
outras humilhações cotidianas enfrentadas pelas massas precisavam ser
superadas o mais rápido possível. Isso significava usar os recursos
limitados da sociedade de uma maneira inédita para as culturas de
crueldade que existiam anteriormente. Significava que o regime
revolucionário teria que tomar decisões do ponto de vista de toda a
sociedade, o que exigiria que certos setores da classe trabalhadora
trabalhassem arduamente em um curto período para produzir bens
suficientes para atender às necessidades de toda a sociedade.
- Construir as forças produtivas da sociedade. As condições
coloniais significavam que as nações mais pobres não dispunham da
infraestrutura (particularmente dos sistemas de eletrificação e
transporte) nem da indústria para produzir os bens e serviços
necessários à realização das aspirações da população. Essa
infraestrutura e essa indústria precisariam de ciência, tecnologia e
capital – todos os quais haviam sido negados a esses países e, portanto,
precisariam ser produzidos às pressas, tanto pela solidariedade
internacional quanto pelo desenvolvimento expresso do ensino superior e
pela exportação de matérias-primas para serem convertidas em capital
para a industrialização.
- Criar o mundo cultural para as massas. Construir
instituições educacionais e culturais para erradicar o analfabetismo e
construir a confiança dos trabalhadores e camponeses para governar sua
própria sociedade é um projeto de longo prazo, cujas dificuldades não
devem ser subestimadas. Em todas essas experiências revolucionárias, a
parte mais desafiadora da construção de um novo projeto é construir a
clareza, a confiança e a dignidade das massas para que se tornem agentes
de sua própria história e assumam o controle do projeto estatal, uma
entidade multifacetada necessária para as economias digitais altamente
complexas de nossos tempos.
A tarefa mais imediata sempre
foi a primeira, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando os
meios tecnológicos de ataque se tornaram mais sofisticados. Golpes de
Estado imperialistas e invasões militares diretas se tornaram quase
normais, enquanto intervenções de um tipo ou de outro foram conduzidas
com impunidade.
É interessante que, em um país como o Chile, que
sofreu uma violenta derrubada imperialista do governo da Unidade Popular
em 1973, haja tão pouca empatia entre as fileiras dos liberais e
social-democratas remodelados – não apenas na Frente Ampla, mas também
em setores da Esquerda Comunista – com a situação, por exemplo, de Cuba,
que não apenas prestou total solidariedade ao governo da Unidade
Popular entre 1970 e 1973, como também ajudou na resistência contra o
governo golpista militar, e que sempre enfrentou – especialmente agora –
um bloqueio ilegal e prejudicial liderado pelos Estados Unidos. É muito
fácil adotar a linguagem do liberalismo da Guerra Fria, retirada de
epígonos da Guerra Fria como Hannah Arendt, mas muito mais difícil
compreender as complexidades de construir uma revolução nas nações mais
pobres.
As revoluções marxistas, da Rússia a Cuba, ocorreram no
reino da necessidade, não no reino da liberdade. Foi difícil para cada
um desses novos Estados – que governavam regiões de grande pobreza –
reunir o capital necessário para um salto rumo ao socialismo.
Um
deles – o Vietnã – havia sido bombardeado pelos Estados Unidos com armas
químicas até que seu solo fosse condenado – e sua infraestrutura
destruída. Esperar que um país como o Vietnã transitasse facilmente para
o socialismo é ingênuo. Cada um desses países teve que se espremer para
coletar recursos e cometeu muitos erros contra a democracia. Mas esses
erros nascem das lutas para construir o socialismo. Eles não são
endêmicos a ele. O socialismo não pode ser condenado por causa dos erros
de qualquer um desses países. Cada um desses países é um experimento em
um futuro pós-capitalista. Temos muito a aprender com cada um deles.
Programas
humanitários seguiram essas revoluções – projetos para melhorar a vida
das pessoas por meio da educação e da saúde universais, projetos para
tornar o trabalho cooperativo e enriquecedor, em vez de debilitante.
Cada uma dessas revoluções experimentou de maneiras diferentes o paladar
das emoções humanas – recusando-se a permitir que as instituições
estatais e a vida social fossem governadas por uma interpretação
restrita do instinto humano (a ganância, por exemplo, que é a emoção em
torno da qual o capitalismo se desenvolve). Poderiam “cuidado” e
“solidariedade” fazer parte do cenário emocional? Poderiam “ganância” e
“ódio” ser amenizados?
A necessidade de clareza e a luta de classes.
A
conjuntura atual exige um movimento entre dois conceitos políticos:
soberania e dignidade. Esses são conceitos interligados em nossa era,
com diferentes movimentos e projetos estatais operando com graus
relativos de comprometimento com cada um deles.
Soberania é um
conceito de nível estatal que se refere a projetos estatais que se opõem
à intervenção de interesses estrangeiros, buscando desenvolver um
conjunto de políticas, as quais defendam os direitos e as necessidades
de seu próprio povo. Para um país que emergiu do colonialismo, a
soberania é um mecanismo para medir o quanto o país foi capaz de superar
as pressões do domínio colonial e da intervenção imperialista.
Buscar
a soberania é, por si só, uma afirmação negativa, o que significa que é
contra a intervenção imperialista; A categoria de soberania em si não
descreve a natureza das relações de classe dentro do país, permitindo
que países tenham caminhos não socialistas, mas, ainda assim, caminhos
soberanos que formam o imperialismo (o Irã, por exemplo, não é um Estado
socialista, mas busca a soberania contra as garras do imperialismo).
Todos os projetos de Estado socialista buscam decididamente a soberania,
mas todos os projetos que buscam a soberania não são socialistas.
Dignidade
é um conceito que se refere à ideia de que cada pessoa e, em seguida,
as comunidades sociais às quais pertencem como indivíduos sociais buscam
dignidade em todos os aspectos de sua vida, desde uma vida cotidiana
digna (emancipação da pobreza e da fome) até uma vida cultural digna
(celebração de sua própria herança cultural como parte da cultura
humana).
O conceito de dignidade foi amplamente compartilhado ao
longo da história humana, desde as tradições do Budismo (todos possuem a
natureza búdica) até o Estoicismo (dignitas ou merecimento
compartilhado por todos os seres racionais); a Declaração dos Direitos
Humanos das Nações Unidas (1948) abre com o reconhecimento da “dignidade
inerente” de todos os “membros da família humana”. Mas a dignidade não é
um fato, a priori, da humanidade (como argumentam o humanismo
ou o liberalismo); ela deve ser produzida à medida que saímos da miséria
da privação (pobreza, analfabetismo) e construímos vidas dignas (como
argumenta o socialismo).
Em outras palavras, existe uma força
material que deve moldar nossa dignidade. Uma política para produzir
dignidade é uma política socialista, embora outros possam adotar este ou
aquele elemento do programa socialista. Não há evidências no mundo de
que o sistema capitalista possa emancipar todas as pessoas de uma vida
de indignidade: o capitalismo gera inerentemente formas de desigualdade e
indignidade. Portanto, todos os empreendimentos que buscam dignidade
são projetos socialistas.
Um dos aspectos mais complexos do nosso
atual estado do mundo é que, enquanto há caos no Atlântico Norte, parece
haver uma crescente sensação de estabilidade em partes da Ásia. As
antigas potências imperiais continuam a insistir em um mundo de
austeridade, dívida e guerra – ideias horríveis que trazem sofrimento a
bilhões de pessoas, desde os palestinos que enfrentam o genocídio
israelense até aqueles que morrem de fome em suas casas porque seu
trabalho precário não lhes dá o suficiente para sobreviver.
Enquanto
isso, particularmente da China, a mensagem é clara: paz e
desenvolvimento rumo a um futuro compartilhado para a humanidade. Este é
um chamado que parece cada vez mais atraente para as pessoas ao redor
do mundo. E é aí que os liberais e social-democratas remodelados parecem
estar tão distantes da realidade: acostumados à linguagem liberal
autoritária da Guerra Fria, eles não estão dispostos a reconhecer,
adequadamente, os grandes avanços obtidos em lugares como China e Vietnã
– contra todas as probabilidades – para tirar suas populações da
pobreza, construir novas forças produtivas de qualidade e oferecer
transferência de tecnologia e colaboração técnica para a
industrialização de grandes partes do Sul Global que sofreram sob o jugo
da estrutura neocolonial da globalização.
A China e outros países
asiáticos não resolveram os problemas do mundo; não oferecem um modelo
de desenvolvimento “pronto para uso”. Mas oferecem uma postura em
relação ao mundo – paz e desenvolvimento – muito mais atraente do que
aquela oferecida pelos antigos Estados do Atlântico Norte em nome do
liberalismo – austeridade, dívida e guerra.
Não é como se liberais
e social-democratas em nova roupagem estivessem tão ansiosos para
construir movimentos de massa e renunciar ao poder estatal. Eles
acreditam que o poder estatal pode ser conquistado por meio das urnas
nas democracias liberais – e que isso pode ser feito dissociando-se
fundamentalmente do objetivo do socialismo, da história do socialismo e
da experiência real dos projetos estatais socialistas.
Mas isso
seria um poder estatal vazio, pois significaria assumir o poder sem
poder, sem construir os movimentos e organizações políticas que vêm com
uma base de massas que é agarrada com clareza, confiança e um desejo de
realizar a plena dignidade humana. A luta de classes continua sendo a
frente de batalha central para construir as personalidades dignas do
futuro.
O mundo quer avançar para o socialismo.





