Derrota da esquerda boliviana, que não conseguiu ter votos para ir ao 2º turno, mostra esgotamento do ciclo progressista latino-americano. Mas também revela lições e possibilidades de fazermos diferente em 2026.
Ainda que tenha sido surpreendente a liderança de Rodrigo Paz no 1º turno ocorrido há pouco, as pesquisas já apontavam que o 2º turno seria disputado pelas direitas. Antes, no entanto, se esperava que Tuto Quiroga, o ex-vice-presidente de Hugo Banzer – o ex-general que governou o país numa ditadura e depois mediante o voto direto –, disputasse com o empresário e ex-ministro Samuel Doria Medina, mas este último ficou de fora.
A chegada de Paz ao 2º turno é sintomática e mostra um pouco da tragédia da esquerda: seus votos se concentraram na parte andina da Bolívia, que foi a base de voto fiel do Movimento ao Socialismo (MAS) de Evo Morales durante todo o século 21. Paz é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora e sobrinho de Victor Paz Estenssoro, três vezes presidente do país e figura mais importante da política boliviana no século 20.
A família Paz talvez seja a principal representante da banda moderada da oligarquia boliviana, a qual protagonizou a Revolução Nacional dos anos 1950, mas não abriu caminho jamais para a maioria indígena poder alcançar, realmente, a cidadania plena. Paz Zamora, o pai de Rodrigo, inclusive foi eleito com o apoio do general Hugo Banzer nos anos 1990, quando a Bolívia além de excluir do voto os indígenas, ainda tinha um 2º turno indireto.
A esquerda boliviana concorreu rachada em três, a campanha pelo voto nulo do ex-presidente Evo Morales, que foi colocado na ilegalidade, a de Andrónico Rodriguez, um jovem sindicalista e ex-senador pelo MAS pela Aliança Popular, e a candidatura de Eduardo Del Castillo, do MAS – e, em tese, o incumbente – do partido do atual presidente Luis Arce – que rompeu com Evo. Todas foram um fracasso. O que isso nos ensina no Brasil?
O presidente Mao Zedong sempre ensinou que era preciso aprender com os erros. Mesmo cercado nas montanhas do Noroeste da China, na Yan’an de 1936, ele se focou em estudar a derrota dos etíopes, cujo país foi invadido pelas tropas da Itália fascista pouco tempo antes. Saber o que causou derrotas é fundamental para se pensar no futuro. O cataclisma boliviano é uma derrota dessa ordem, mas se ainda estamos vivos, podemos aprender e contra-atacar. É sobre isso aqui.
As coisas podem mudar rápido na política
Evo Morales venceu em 2019, mas não levou, vítima de um golpe militar que muitos diziam ser impossível. A mobilização intensa iniciada logo depois levou a uma repressão brutal. Evo e seu vice Álvaro Garcia Linera fugiram para o México, depois de quase terem sido assassinados no decorrer dos fatos. Nem a Covid-19, nem a brutalidade estatal contra os indígenas foi capaz de parar o movimento democrático.
Quase um ano depois do golpe, novas eleições foram convocadas em 2020, repetindo os altos quóruns de votação desde a refundação do Estado Boliviano por Evo e o MAS em meados dos anos 2000. O candidato do MAS, contudo, foi Luís Arce, que durante a maior parte do tempo foi o homem forte de Evo para a economia – o que visava, aparentemente, trazer um perfil mais técnico e apaziguador para o comando do país.
Já em 2023, contudo, a popularidade de Arce declinou. De um lado, tensões e caneladas entre ele e Evo se tornaram públicas, enquanto os bolivianos estavam insatisfeitos com a economia. Depois de anos crescendo, com distribuição de renda, a taxas entre 5% e 4%, 2019 já tinha sido um ano desafiador, pouco antes do golpe, mas a recuperação pós-Covid-19 não aconteceu, com a economia crescendo em torno de 2% sob Arce.
Era outro governo. Para além da disputa fratricida entre Arce e Evo, o novo presidente assumiu um perfil tecnocrático e se distanciou das massas. Ele, que foi um discreto comandante da economia, revelou a dualidade de poder boliviano nos tempos do Estado Plurinacional: como homem de ligação com a burguesia, em um momento de escassez do crescimento, Arce prestigiou ela em vez das massas nesse novo momento.
Se durante os 13 anos da presidência de Evo, a Bolívia conciliou o desenvolvimento com distribuição de renda e a realização de uma etapa democrática, com a geração de direitos para as maiorias indígenas, alguns problemas do ciclo progressista latino-americano também apareceram – como a dificuldade de sair do modelo exportador de bens primários, ali a mineração – e choques com a velha e a nova burguesia.
Um salto parado no ar, o processo boliviano como uma crise local e do progressismo latino-americano
Dos anos 1990 em diante, uma reunião de forças mudou os governos da maior parte da América Latina. Em quase todos os países do continente, forças nacional-populares e socialistas se uniram, com o neoliberalismo como inimigo comum. Essa nova onda alçou lideranças carismáticas e seus movimentos de massas em disputas eleitorais contra forças que misturavam o neoliberalismo com o entulho autoritário de ditaduras e oligarquias.
Se de um lado essas forças, a na Bolívia não é diferente, tornaram a economia mais justa, distribuíram renda, incentivaram o emprego e os salários, enquanto finalmente garantiam direitos democráticos – que antes quase só existiam no papel –, por outro lado, houve um grande fracasso em não mudar o modelo econômico de exportação, seja extrativista ou agropecuário, enquanto viram os custos da nova acumulação de capital.
Mesmo países relativamente industrializados como Brasil e Argentina viram suas economias, inclusive, serem reprimarizadas, com o agronegócio para exportação tomando o lugar da modernidade – tudo em prol dos dólares rápidos e fáceis via mercado global. Isso não quer dizer que não tenham havido avanços, mas quem tentou se industrializar, fracassou e quem tinha indústria se acomodou na posição agro/extrativo-exportadora.
No cenário boliviano, por outro lado, apesar da organização e mobilização das massas do MAS, muito mais vibrante que no Brasil, isso não foi o suficiente para que não acontecesse a captura das massas que ascenderam à sociedade de consumo – e as classes médias; por outro lado, a reação das classes tradicionais foi, igualmente, violentíssima enquanto os campeões nacionais emergentes do capital se acomodaram com o dinheiro velho.
Vejamos, não falamos de um cenário estático, mas plenamente dinâmico, no qual esses governos – e o de Evo não foi diferente – foi em certa medida vítima do seu próprio sucesso, mas não foi capaz de engatar uma solução para a nova etapa – e seus novos problemas. A opção por Arce em 2020 foi semelhante, nesse sentido, a de Alberto Fernandez na Argentina de 2019, com ambas terminando mal.
O que aconteceu na Bolívia não está longe do Brasil
Éevidente que cada país tem realidades particulares. Erros estratégicos podem produzir resultados muito diferentes – e não resta dúvida que a ruptura entre Evo e Arce foi danosa. Ela, contudo, não explica a derrota, apenas o tamanho dela. E essa ruptura foi, tanto mais, expressão do próprio arranjo boliviano, e uma consequência possível dele, que não foi devidamente lido a tempo.
Mas há que se perceber que a resposta para o momento atual da América Latina é mais política, não menos. Não se pode substituir a política pela gestão, o que esconde inclusive uma ilusão na técnica e na suposta neutralidade. Hoje, a América Latina precisa de mais política, não menos. Arce não entendeu isso, enquanto liderava uma economia estável porém estagnada e não via maiores problemas.
Nesse sentido, ainda que a história boliviana seja atravessada por grandes crises econômicas que levam a terremotos políticos de tempos em tempos – como apontou Garcia Linera recentemente –, por outro lado, há que se ponderar o peso de como o governo lida com essas crises – e como o povo percebe isso, ao sentir que fica na berlinda nesses momentos. Ainda, apesar do “crescimento asiático” sob Evo, faltou dar um salto para o bem-estar.
Mas Garcia Linera aponta, não é que a população boliviana guinou à extrema direita, pois ela fez uma opção pela direita moderada de Paz em um surpreendente movimento de voto útil, o qual não foi captado pelas pesquisas de véspera. A questão é que o processo boliviano volta à estaca zero, em um momento de ofensiva brutal do imperialismo americano na região, com ameaças claras à Venezuela.
Hoje, essa mesma loucura trumpista, por outro lado, possibilita ou obriga os governos latino-americanos a saírem da normalidade. Não são tempos para tecnocracia. Não é a gestão racionalista dos recursos que vai mudar a realidade, mas uma política que seja capaz de dar conta das mudanças, nem sempre amigáveis, de cenário. O Brasil precisa ter isso em mente para vencer e avançar em 2026.
é publisher da Revista Jacobina, editor da Autonomia Literária, mestre em direito pela PUC-SP e advogado.
Em
JACOBINA
https://jacobin.com.br/2025/08/o-que-a-catastrofe-da-bolivia-ensina-ao-brasil/
22/8/2025
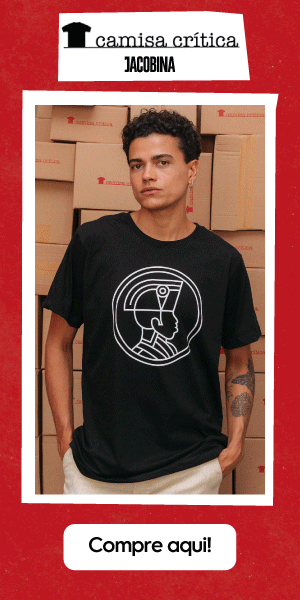
Nenhum comentário:
Postar um comentário